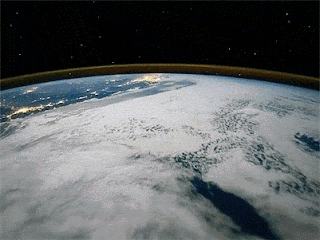Mas enquanto as questões fundiárias e
ambientais não estavam no topo da agenda e o mundo não demandava tanto
alimento como hoje – até o gigante chinês ter despertado – a situação
era vista como aceitável. Ou quase nem era “vista”. A realidade agora é
outra: a acumulação aumentou muito nos últimos anos e desperta
preocupação.
O último levantamento mais preciso, com
dados de 2010, falava de 34,3 mil propriedades rurais sob domínio direto
do capital externo, cuja extensão chegava a 4,5 milhões de hectares. O
Instituto Nacional de Colonização Agrária (Incra) está fazendo outro
levantamento, mas já sabe que houve aumento.
Comenta-se que, daquele total, aproximadamente 1,5 milhão de hectares foram incorporados apenas nos últimos três anos.
Os
defensores de restrições vão em todas as direções do espaço ideológico
nacional – do ex-ministro neoliberal Delfim Netto e entidades de
empresários do agronegócio, como a Abiove (setor óleo vegetal), a
representantes de trabalhadores rurais e organizações contrárias à
concentração de terras, tais quais a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (Contag) e a ActionAid Brasil.
Essa
união de opostos foi seguida pelo governo federal, que elevou, em 2012,
as exigências às compras de terras por pessoas físicas e jurídicas de
fora, além de empresas brasileiras com domínio de capital estrangeiro.
Uma das exigências é o pedido de autorização para investimento. Mas a
União procura dar uma aparência de normalidade, especialmente para não
vender a imagem de que está bloqueando a entrada de capital externo.
O
tema está em debate no Congresso Nacional e, claro, há defensores desse
tipo de recurso estrangeiro, com apoio de bancas de advogados que
representam os interessados e dos bancos e fundos de investimentos.
O
sentimento que mistura temores quanto à soberania nacional,
neocolonialismo, desmatamentos, substituição de culturas não
alimentícias, avanço em fronteiras de baixo desenvolvimento humano,
entre outros elementos, foi sendo montando seguindo alguns movimentos no
Brasil e no mundo.
O primeiro deles é o capital chinês
que se espalhou pela África e já está presente cada vez mais no Brasil,
atrás da soja em terras aráveis, além de minérios. Para assegurar
mantimentos em seu país e depender menos das importações, houve anúncios
recentes de intenções de investimentos no Brasil da ordem de US$ 11
bilhões. Na Bahia, o Chongqing Grain Group, divulgou planos de US$ 300
milhões no Oeste da Bahia, enquanto o Grupo Pallas apontou os estados de
Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, para falarmos em apenas dois
movimentos.
“Eles compram a África e agora querem
comprar o Brasil”, disse em entrevista Delfim Netto, enquanto o
presidente da Abiove, Carlo Lovatelli, advertiu recentemente: “Eles
estão procurando por terras, à procura de parceiros de confiança, mas o
que gostariam mesmo de fazer é correr o show sozinhos”. Como estão fazendo na Argentina e Peru.
Por
falar em parceiros e Argentina, há denúncias de que os empresários
chineses – que sabidamente se articulam com o apoio do governo nos
bastidores – estão usando testas-de-ferro argentinos na compra de terras
no Brasil. Assim, eles não aparecem. Segundo consta, isso já despertou
as atenções da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
Mas
na conta dessa “invasão”, não são apenas os investidores da China que
são alvo de reclamações. Há movimentos notados de capital do Oriente
Médio – outra região altamente dependente de recursos naturais
importados – e de europeus e americanos, que tentam fugir da crise.
Estes últimos têm chegado ao Brasil, nos últimos anos, montados através
de fundos de investimentos.
O problema, na visão dos
agentes de mercado que querem regulamentar a entrada desse capital no
setor agrário, entre os quais José Mário Schreiner, vice-presidente da
poderosa Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), é o
tamanho da fatia desejada. Nos estados vistos como última fronteira
agrícola, notadamente aqueles citados anteriormente, aos quais pode-se
juntar o Pará, todos de baixo desenvolvimento e com sérios problemas
fundiários e sociais, os projetos envolvem grandes extensões rurais.
Mesmo
porque nos estados mais desenvolvidos e naqueles com grande vocação
para plantação de grãos, pouco espaço há disponível diante da ocupação
de grandes latifúndios nacionais e internacionais.
Dados
do Incra dão conta que em Mato Grosso, por exemplo, um dos principais
produtores e exportadores de soja, com boa presença de algodão e milho
também, os estrangeiros dominam perto de 500 mil hectares e respondem
por 5% do plantio de grãos. E olha que o estado pode ser considerado de
exploração agrícola mais recente, tanto que em número de imóveis rurais é
de apenas 1,2 mil.
Já São Paulo, por exemplo, são 12,2
mil imóveis, mas a exploração é mais antiga. O componente que mais
preocupa no estado é diferente dos demais. A procura dos estrangeiros é
para projetos em usinas de açúcar e álcool, com aquisição e
arrendamentos de canaviais, e na silvicultura. Obviamente que não são
culturas alimentícias e que avançam sobre áreas férteis (em um estado
menor e já densamente ruralizado), “expulsando”, pelo poder de compra,
pequenos agricultores.
Este é outro viés das críticas
ao modelo de entrada dos estrangeiros, na visão da Contag e do estudioso
do tema, o professor Bernardo Mançano, da Unesp de Presidente Prudente.
O
acadêmico lembra em artigo em Unesp Ciência (abril) um dos lados
perversos dessa corrida por terras em países pobres, conhecida pela
expressão inglesa land grab: a
valorização desproporcional das terras. Se já não bastasse as terras
brasileiras serem valorizadas por conta de qualidade e custo de
mão-de-obra barata, a demanda pressiona a oferta.
Entre
2003 e 2012, segundo pesquisa de Mançano, o preço médio do hectare no
Brasil repicou de R$ 2.280 a R$ 7.470. O pequeno e até médio agricultor
não pode comprar para expandir seu negócio porque não faturam para isso;
quando não, acabam vendendo por não suportarem os custos de insumos que
crescem em paralelo à valorização, e muitas vezes voltam a viver à
margem da sociedade.